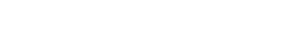Por Breno Procópio, Assessor de Comunicação do Observatório das Metrópoles
O Estatuto da Cidade comemora neste ano uma década de existência. Lei Federal nº 10.257, aprovada em 2001, definiu um novo marco regulatório para o controle do processo de desenvolvimento urbano por parte dos municípios, abrindo perspectivas inéditas para a renovação das práticas de planejamento do território brasileiro. Mas o que aconteceu no país após dez anos de Estatuto? O INCT Observatório das Metrópoles traz uma série de entrevistas sobre os grandes temas do Estatuto da Cidade a fim de mostrar o que mudou nesse período, como os municípios fizeram uso dos novos instrumentos e quais são os desafios para avançar. O primeiro tema da série é o acesso à terra urbanizada.
Para a professora da FAU/USP e urbanista, Ermínia Maricato, o acesso à terra seja no meio rural ou urbano continua sendo a principal barreira para a transformação urbana das cidades brasileiras. Sendo que a dificuldade de acesso à terra regular para habitação é uma das maiores responsáveis pelo explosivo crescimento das favelas e loteamentos ilegais nas periferias das cidades.
No livro “O impasse da política urbana no Brasil”, Maricato mostra que, na década de 1980, quando o investimento em habitação social foi quase nulo, a taxa de crescimento da população moradora de favelas triplicou em relação à população urbana em seu conjunto. “Nos anos de 1990, a taxa duplicou. Perto de 12% da população de São Paulo e Curitiba moram em favelas. Em Belo Horizonte e Porto Alegre, até 20%. No Rio de Janeiro, 25%. Em Salvador, Recife, Fortaleza, São Luiz e Belém, mais de 30% das pessoas vivem em favelas. Somando-se as moradias ilegais, encontramos aproximadamente 40% dos domicílios de São Paulo e 50% no Rio de Janeiro em situação irregular. Os moradores dessas casas se encontram em condições de insegurança permanente”. (MARICATO, 2011).
O processo de favelização das cidades brasileiras não ocorreu, no entanto, por falta de planos e nem de leis. O Estatuto da Terra, de 1964, relaciona a reforma agrária à “melhor distribuição de terra” e à “justiça social”. E a Constituição Federal de 1988 prevê a função social da propriedade e o direito à moradia. Contudo, da retórica das leis à prática, o país ainda vive um grande abismo.
No ano de 2001, o Estatuto da Cidade é criado, resultado das lutas de setores da sociedade – sobretudo daqueles mais marcadamente excluídos do direito à cidade. O Estatuto surge como possibilidade de redesenhar o modelo de política urbana que tem imperado no Brasil, tanto do ponto de vista das diretrizes e instrumentos urbanísticos incluídos na lei, como através da afirmação de nova forma de tomada de decisões acerca do futuro das cidades – compartilhada e pactuada diretamente pelos cidadãos.
Para muitos especialistas, a promulgação do Estatuto representou também um avanço para o Brasil na direção da democratização do acesso à terra urbana e da garantia do direito humano e universal à moradia adequada. Contudo, a Lei delegou para as cidades, em suas práticas de planejamento territorial, a missão de incorporar as novas diretrizes e instrumentos, de acordo com a especificidade de sua situação sócio-econômica.
E esse foi o ponto de partida do projeto “Rede Nacional de Avaliação e Capacitação para Implementação de Planos Diretores Participativos (2009), desenvolvido pelo Ministério das Cidades em parceria com o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR/UFRJ). O professor do instituto, Fabrício Leal de Oliveira, coordenou a área da pesquisa referente ao tema acesso à terra urbanizada, na qual os pesquisadores avaliaram relatórios estaduais que, por sua vez, avaliavam os relatórios dos planos diretores municipais selecionados para investigação.
Segundo Fabrício, os resultados da pesquisa são bastante preliminares, já que, com exceção dos 26 estudos de caso, ela é baseada na análise de documentos e, com freqüência, a lei do plano diretor é a única fonte disponível. Os pesquisadores, por exemplo, em geral não tiveram acesso aos diagnósticos. “Os relatórios estaduais são muito heterogêneos e a impressão que tivemos é que eles se aprofundam pouco nos instrumentos de acesso à terra urbanizada”, explica.
Leia a seguir a primeira entrevista da série “10 anos do Estatuto da Cidade” com o professor Fabrício Leal de Oliveira, que fala sobre os instrumentos criados ou validados pelo Estatuto, e como eles têm sido implementados e/ou regulamentados pelos municípios em todo o país.
Para alguns analistas o acesso à terra urbanizada é o principal problema gerador dos conflitos sociais na sociedade brasileira. Como você vê isso?
O acesso à terra urbanizada para a população de baixa renda só vai acontecer com a intervenção do Estado, não existe outra maneira. O Estatuto da Cidade traz instrumentos que poderiam ser utilizados para avançar nesse sentido, como o IPTU progressivo no tempo, a outorga onerosa do direito de construir, a criação de zonas de interesse social, entre outros, mas a pesquisa recente sobre planos diretores brasileiros elaborados nos últimos anos mostra, em caráter preliminar, que em muitos poucos casos houve avanços concretos no que se refere ao acesso à terra. Lembro que em 2001, a professora Ermínia Maricato, em entrevista na imprensa, previa uma chuva de processos judiciais contra o IPTU progressivo, por exemplo. Mas nem isso aconteceu. O que se viu na prática foi que a maior parte dos municípios criou instrumentos presentes no Estatuto, como o IPTU progressivo no tempo, mas pouquíssimos municípios os regulamentaram para serem aplicados efetivamente. Em muitos casos os próprios executivos municipais recuaram e elaboraram planos diretores com orientações muito gerais, sem regulamentar ou criar condições concretas para aplicação dos instrumentos.
Em qual contexto o Estatuto da Cidade foi criado? Havia uma luta dos movimentos populares pela Reforma Urbana que, parece, eclodiu com a criação do Estatuto?
O Estatuto não surge no vazio. Quando o Estatuto é aprovado em 2001 é como se ele desenterrasse a pauta da Reforma Urbana, a ideia de plano diretor e do planejamento urbano para o país, que, é claro, ainda tinha seu espaço de discussão, mas já não era uma ideia tão presente. Nos anos 1990 e na virada do século, de maneira geral, no Brasil, a moda eram os planos estratégicos, a ampliação da competitividade das cidades, a atração de investimentos externos; ou seja, o Estatuto surge num contexto político no qual havia diversos discursos em disputa para a cidade.
É nos anos noventa que o Banco Mundial passa a pautar ajustes na gestão urbana em consonância com o ideário neoliberal – que se dissemina mais fortemente entre nós após a eleição de Collor -, é dessa época a consolidação de um discurso sobre a sustentabilidade das cidades que acentua a sua dimensão econômica. Do outro lado, havia, é claro, o discurso da justiça social e da participação popular para a construção de uma cidade mais justa, igualitária etc e modelos e experiências de gestão como o orçamento participativo de Porto Alegre, por exemplo.
O Estatuto da Cidade estava tramitando há mais de dez anos quando é aprovado. E muitos ficaram surpresos quando isso aconteceu, pois o Estatuto retoma uma série de princípios que estavam arrefecidos no âmbito das políticas municipais em detrimento de planos estratégicos, de promoção da cidade no mercado mundial.
O outro lado da história é que o Estatuto se reconstrói e se modifica nesse ambiente. Ele não é a recuperação pura das reivindicações das décadas de 1970 e 1980, mas incorpora instrumentos e práticas de gestão desse ambiente dos anos 1990, como é o caso das “operações urbanas” – que replicam a experiência da Operação Urbana Faria Lima – ou da sua versão de outorga onerosa do direito de construir – que abandona a ideia do índice 1,0 e incorpora, como no caso da outorga para alteração de uso, aspectos das operações interligadas do Rio e São Paulo. Quero dizer, ele se modifica neste percurso e alguns dos seus instrumentos não estavam presentes nos modelos propostos nas décadas 70/80.
Segundo a pesquisadora Betânia Afonsin, o Estatuto da Cidade tem como pressuposto a visão do direito à propriedade subordinado ao cumprimento da sua função social, ou seja, mudamos do Direito privado da propriedade para o Direito Público da propriedade. O Estatuto realmente valida isso?
Os princípios e diretrizes do Estatuto infelizmente ainda não foram implementados no Brasil. Por toda parte, ainda é muito forte a adesão ao ideário da competitividade urbana e às pautas e orientações disseminadas pelas agências internacionais de desenvolvimento que promovem um tipo de gestão urbana que privilegia a eficácia econômica e não a redução das desigualdades sociais. O Estatuto certamente incorpora e reafirma as indicações da Constituição Federal sobre a função social da propriedade e dá orientações fundamentais para a gestão urbana associadas a esse princípio, assim como instrumentos como parcelamento e utilização compulsórios, zonas de especial interesse social e a recuperação de mais valia a partir de investimento público, entre outras.
Mas o que vimos na pesquisa foi que muitos planos diretores incorporam apenas formalmente o princípio da função social da propriedade, muitas vezes desvinculado da noção de interesse público, como se qualquer uso determinado pelo Plano Diretor implicasse o cumprimento da função social da propriedade. Houve uma diluição do princípio, ou, em alguns casos, uma apropriação cínica: inclui-se, nos artigos iniciais, entre os princípios e diretrizes, uma série de orientações que não dialogam com o resto do plano, ou que são mesmo contrariadas em outros artigos.
O Estatuto da Cidade foi importante para a validação de quais instrumentos?
Foi muito importante para a regulamentação de instrumentos como parcelamento de edificação compulsório, IPTU progressivo no tempo, desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública, além da possibilidade de consórcio imobiliário. Para a disseminação nacional da noção de zona especial de interesse social (ZEIS).
Nas cidades grandes é muito comum e há muito conhecida a ideia da ZEIS, mas no interior do Brasil não. O interessante é que nessa década a noção de dissemina pelo país todo. Após as experiências do Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades de urbanização de favelas, essa noção do direito de morar na cidade, de fazer parte da cidade se espalha. Mas os governos avançaram pouquíssimo na criação e delimitação de ZEIS em áreas vazias, por exemplo. Houve um avanço no discurso, admite-se que é importante ter moradia de interesse social nas áreas centrais, mas onde é que foi feito isso no País?
Tirando o caso de São Paulo, no projeto tivemos apenas seis casos de delimitação de zona especial de interesse social vazia no conjunto dos 526 planos, segundo os relatórios estaduais. Já São Paulo tem bastante coisa, mas não sabemos como são ou onde estão essas ZEIS, os relatórios não se aprofundam nisso.
Temos casos de sucesso, mas são poucos. De maneira geral, a pesquisa aponta que os planos diretores pouco ou nada avançaram na promoção do acesso à terra urbanizada no Brasil.
O que o projeto “Os Planos Diretores Municipais” mostrou em relação aos instrumentos regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda?
Talvez um dos principais avanços do Estatuto da Cidade se refira à usucapião especial coletiva e à concessão especial de uso para fins de moradia, que são direitos que independem da regulamentação municipal, logo são ganhos de fato. Mas, é claro, que isso não basta. O instrumento prevê a delimitação de uma área, dela você dá uma fração igual para todo mundo a fim de regularizar ou você precisa ter um acordo entre os moradores para a divisão de parcelas diferentes. Mas para fazer isso você precisa ter o poder público ajudando, fazendo a medição, trazendo informações cadastrais etc. Porém, se o poder público não se movimenta, essas coisas andam a passos lentos.
O que vimos foram pouquíssimos casos de planos diretores que buscaram dar orientações nesse sentido, ou seja, apoiando os processos de regularização fundiária. Embora os casos sejam poucos, esse foi um ganho importante do Estatuto da Cidade, talvez o maior. No entanto, para isso se viabilizar de fato, para que as experiências comecem a aparecer, você teria que ter a ação do município para ajudar nesses processos.
E sobre o controle do uso, ocupação e parcelamento do solo – o que foi verificado?
De maneira geral, os planos diretores pesquisados não regulamentaram a legislação de ocupação e parcelamento do solo. Em boa parte das cidades brasileiras, os vetores de desenvolvimento e aumento de densidade são definidos pela lei de uso e ocupação do solo. Então, você fazer um plano diretor – por melhor que ele seja – sem mexer ou alterar nada na legislação de uso e ocupação do solo significa, quase sempre, fazer um plano que não orienta quase nada. É o caso do Rio de Janeiro: o plano diretor de 1992, por exemplo, era repleto de diretrizes e princípios, bem estruturado; no entanto, na prática o plano tinha um único parâmetro de aplicação imediata que era o índice máximo de aproveitamento do terreno. Na verdade, o que regula a distribuição e a intensidade dos usos no Rio é a legislação urbanística, em sua maior parte produzida na época da ditadura. E isso acontece no Brasil todo, ou seja, enquanto estamos lendo os planos diretores municipais, o que está valendo para a cidade é a lei de uso e ocupação do solo.
Na verdade, essa é uma das principais limitações da pesquisa. Para fazer uma avaliação dos planos, precisamos confrontá-lo com o seu contexto de implantação, com as leis existentes, a conjuntura política e institucional etc, o que só foi possível nos estudos de caso. Precisaríamos analisar as leis urbanísticas, que são muitas, que determinam o que pode ser construído aqui ou o que não pode; o que é proibido; qual é o lote mínimo? O pesquisador precisa ter acesso à lei para saber sobre os coeficientes máximos. O plano está aumentando ou diminuindo o coeficiente? Não dá para saber.
Na pesquisa de avaliação dos planos diretores, o que foi verificado em relação às normas específicas para o parcelamento da terra e habitação de interesse social?
A pesquisa tinha uma pauta, um conjunto de perguntas que deviam ser respondidas. Uma das mais importantes se referia ao seguinte: uma das maneiras de se garantir terra para habitação de interesse social é que o próprio processo de parcelamento produza isso. É você ter uma cota no parcelamento de tantos por centos para habitação de interesse social. Embora isso possa estar definido na lei de parcelamento e não necessariamente no plano diretor, o objetivo era investigar se os planos tinham avançado nesse sentido, mas encontramos pouquíssimos casos.
Dos 526 planos diretores, encontramos cerca de 10 que fazem menção ao parcelamento de terra com área para habitação de interesse social. Essa é uma pauta que pode avançar, já que os planos diretores avançaram pouco na questão do acesso à terra urbanizada. Uma pauta para revisão da lei de parcelamento deveria incluir isso. É claro que, se os planos diretores não incorporaram isso, temos uma sinalização de que as dificuldades para regulamentar serão grandes.
A resistência da incorporação imobiliária é muito grande, pois a habitação popular é vista apenas como uma externalidade negativa com implicações para a valorização fundiária. Essa é uma das principais razões para a volta das remoções que vem sendo feitas no Rio hoje. Não é só o argumento da necessidade de obras viárias, mas de valorização imobiliária mesmo.
O que faltou na campanha pelos planos diretores – que tem muitos méritos, sem dúvida – foi acentuar os conflitos que iam surgir. Quer dizer, se o plano diretor é tudo isso que se espera dele, se o Estatuto traz tantas possibilidades, pode-se saber que existirão muitos conflitos de interesse. E vimos isso nas ações da maioria dos prefeitos. O que eles fizeram? Tentaram esvaziar os planos, concebendo planos bem genéricos para não cercear a ação do executivo.
Isso foi verificado na maioria dos planos diretores?
Sim. Os planos diretores em sua maioria são bastante genéricos, fazem menção aos princípios, porém não regulamentam nada, nada é aplicável, tudo depende de outra coisa. Essa é a norma geral para a lei de uso e ocupação do solo, e também para os outros instrumentos.
E em relação ao parcelamento, edificação ou utilização de compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação com pagamento em títulos da dívida pública?
Em geral, os planos incluem a possibilidade do IPTU progressivo, por exemplo. No entanto, deveriam delimitar a área de aplicação, como define o Estatuto da Cidade, porém os municípios nem isso fazem. Alguns municípios dão indicações para regulamentação que contêm uma série de isenções que inviabilizam o instrumento. Em muitos planos, como o plano do Rio de Janeiro (que, aliás, não foi contemplado na pesquisa), por exemplo, o IPTU progressivo não vale para áreas que tenham qualquer atividade econômica que não necessite de edificação para acontecer. Mas o que isso significa? Qualquer coisa! Há muitos planos que dão isenções para estacionamentos. Em Caxias tem uma área que o lote mínimo para aplicar o IPTU progressivo é de 50 mil m².
Apesar dos casos, o instrumento é um avanço do Estatuto. Aliás, talvez seja cedo para avaliar o Estatuto da Cidade, os planos diretores acabaram de ser aprovados, até agora verificamos que aconteceu muito pouco; talvez daqui a 20 anos o país possa já estar fazendo uso dos seus instrumentos de forma mais efetiva. Mas é possível também que as coisas não evoluam em direção aos instrumentos voltados para redistribuição de renda e promoção da função social da propriedade, mas, ao contrário, que se acentuem os processos que acirram as desigualdades por meio de operações urbanas que amarram investimentos públicos com interesses privados, como vem acontecendo em muitos lugares. Quer dizer, são dois caminhos em conflito, e os dois legitimados no Estatuto da Cidade.
Há muito o que pesquisar ainda. Com relação ao material disponível da pesquisa nacional, para dar continuidade à avaliação da implementação do Estatuto, podemos investigar com cuidado os estudos de caso, porque podem nos dar um mapa dos processos, da implementação dos instrumentos, como isso está sendo feito.
E na sua opinião o que se deve fazer para avançar mais na implementação do Estatuto da Cidade?
Essa pesquisa mostrou que o plano diretor não pode ser a ênfase para o avanço dos princípios e diretrizes do Estatuto. Apesar de a Lei dizer que o plano diretor é a principal ferramenta para sua implementação, está mostrado que o plano diretor vai ajudar muito pouco o Estatuto da Cidade, embora ele seja um campo de luta que não deve ser abandonado, ou recusado. Mas devem ser delineados outros caminhos, que passam pela definição do orçamento, das prioridades de gestão etc. Lembro das expectativas em torno da orientação do Estatuto que aponta que os orçamentos devem respeitar os planos diretores, mas os planos não têm qualquer orientação objetiva referente a gastos orçamentários – com exceção de pouquíssimos casos. Ou seja, a tradicional esquizofrenia marcada pela diferença entre o que o plano diretor define e o que o prefeito executa continua igual.