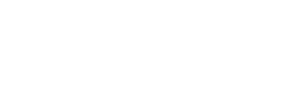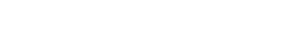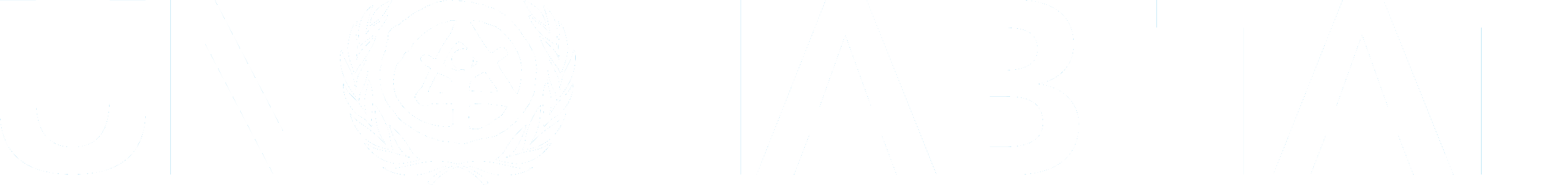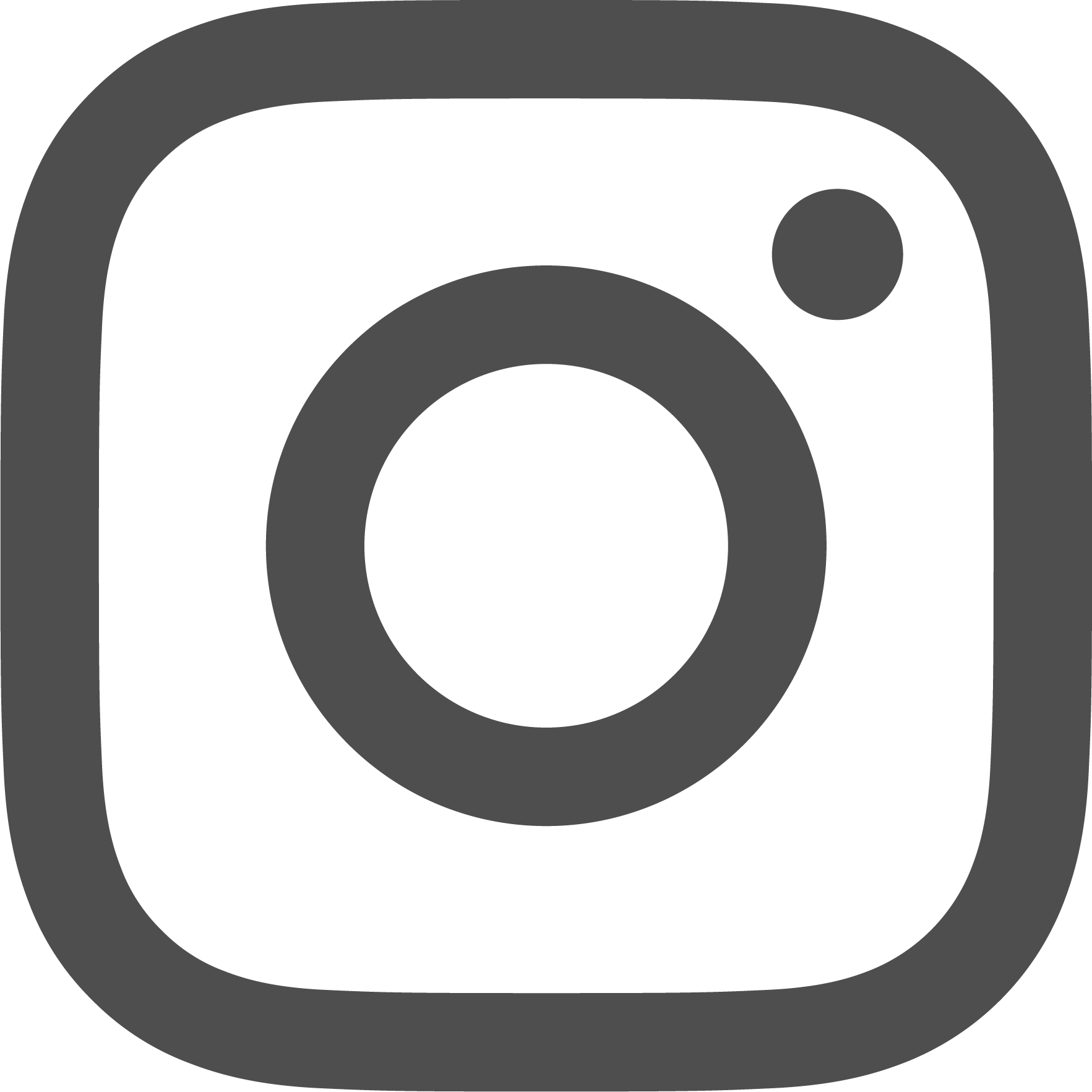Ana Claudia Cardoso¹
Com o compromisso de orientar uma transição ecológica pautada no combate ao desmatamento e às desigualdades climáticas, o Brasil apresentou, na COP29, sua nova Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC). O documento foi um marco da saída do país de uma postura negacionista para a de liderança do debate, em função também da sua condição de anfitrião da COP30. As metas brasileiras prometem o controle das emissões de gases de efeito estufa (redução de 67% até 2030), além da diminuição do uso de combustíveis fósseis por eletrificação e uso de biocombustíveis, e de alinhamento ao objetivo de neutralidade climática até 2050 (alcançar um balanço zero de emissões de gases de efeito estufa).
Nessa linha, o Plano Clima é o suporte para uma estratégia de avanço mais ambiciosa da nova NDC. O guia propõe 16 planos setoriais e temáticos de adaptação e sete de mitigação. Seus objetivos sinalizam a possibilidade de articulação entre temas como cidades e mobilidade, igualdade racial e enfrentamento do racismo, recursos hídricos, saúde, segurança alimentar e turismo. Nesse sentido, a ideia aqui é refletir sobre o quanto a realização da COP30 em Belém pode oferecer inspiração a respeito da operação dessas metas.
Para começar, a cidade teve gênese indígena: o sítio de Belém foi escolhido pelo povo Tupinambá, e esse assentamento se comunicava por via fluvial com outros na área, segundo a lógica de que estar em rede é mais importante do que ser grande. O local onde a Belém colonial foi fundada permitia o controle da parte sul da foz do Amazonas e a comunicação para dentro da região (por meio dos rios) e para outros continentes (através do oceano Atlântico). Para os indígenas, a localização próxima às águas trazia outras vantagens, como o acesso a alimentos e insumos para a produção das moradias.
Durante sua repaginação colonial, a população europeia procurava solo firme e alto, e a população nativa se acomodava nas várzeas circundantes, estabelecendo usos rurais praticamente dentro da cidade. A ação colonial instituiu a divisão cidade-campo e combateu as formas de cultivo e ocupação nativas, que hoje seriam chamadas de agroecológicas, em favor da agricultura. Mas também assumiu que a dedicação aos postos da burocracia e o assalariamento eram as formas normais de trabalho, apesar de a cidade prosperar a partir da comercialização de tudo o que era coletado ou plantado na floresta.
Essa produção para exportação vinha de modos muito adaptados de viver e trabalhar na cidade-floresta, o genuíno espaço social que articula a capital ao seu entorno em todas as direções (seja à Ilha do Marajó, ao Baixo Tocantins ou ao Nordeste Paraense), em uma versão atemporal de formulações sobre dispersão urbana. Nessa cidade-floresta, ou cidade-rio-floresta, corredores de pequenos assentamentos são formados por composições indivisíveis de rios, moradias, roças e floresta, formando um padrão que é consolidado, embora até hoje não reconhecido. A vida acontecia provando que aglomerações humanas podem coexistir com ecossistemas complexos sem degradá-los. Os assentamentos que ainda mantêm registros de arranjos nativos no presente revelam complementariedade de atividades, fluxos de pessoas e de objetos entre eles e deles com as cidades. Nos mercados próximos, predominava o uso de biomateriais para construção, muito movimento para os corpos humanos e comida de verdade em benefício da saúde.

Foto: Ricardo Stuckert (Presidência da República).
Outro aspecto é o respeito entre humanos e outras espécies em uma relação de parentesco ampliada. Vida com um baixo nível de emissões, manutenção da vegetação para a realização de serviços ambientais e modulação do microclima, mas que seria beneficiada por auxílios tecnológicos e serviços tipicamente concentrados nos centros das cidades. Nesse contexto nativo, sempre existem interstícios verdes entre os assentamentos, transformando a floresta em uma espécie de macroinfraestrutura verde, que costumava abraçar cidades, vilas e comunidades, contribuindo para a produção e purificação das águas.
Há séculos essas práticas são desqualificadas pelo desejo de liberação das terras para outros usos. Foi ensinado às pessoas que ter origem indígena era motivo de vergonha e, com a falta de manejo, essa linguagem espacial tem se tornado incompreensível. Os herdeiros da colonização percebem os corredores de comunidades que ainda existem no entorno da metrópole como espaços provisórios ou como “terras” disponíveis para a expansão das cidades. Ou seja, para a implantação de logística de apoio às atividades totalmente mecanizadas para produção de commodities ou à expansão das cidades.
Nessa cidade-floresta, em que Belém está inserida como uma centralidade importante, mas incapaz de existir sozinha, é possível compreender que essa racionalidade não é a única possível. As práticas relacionadas ao aumento de emissões de CO₂ e à mutação climática em curso atualmente podem ser alteradas, o que é muito animador para uma conferência que deveria encontrar metas de adaptação para a humanidade, que se concentra cada vez mais em cidades.
Onde nos perdemos?
Houve normalização da violência intrínseca ao paradigma de desenvolvimento que consome ecossistemas vorazmente. Dentro das cidades, seguindo a mesma lógica, rios são usados como canais de esgoto. A incapacidade de desenvolvimento de soluções ajustadas à realidade local destacou os pacotes tecnológicos de infraestrutura como a única possibilidade para mitigar problemas de saneamento, como aqueles das áreas populares, que foram produzidas de modo incremental e improvisadas sobre sítios de várzea. Tais áreas se tornaram adensadas pelo negacionismo ou pela omissão de autoridades.
Na prática, ao receberem aterros, gradativamente foram inseridas na lógica do mercado. Por mais contraintuitivo que isso seja do ponto de vista ambiental, áreas consideradas irregulares não eram atendidas por políticas públicas nem eram objeto de planejamento ou preservação. Para completar a tragédia dos rios e da ocupação da terra, a vegetação sofreu propaganda negativa desde o início do século XX. A diretriz passou a ser desmatar e vencer o inferno verde… absolutamente incompreendido!
Atividades lúdicas e esportivas foram direcionadas para praças áridas nas periferias ou para os grandes parques. O espaço amplo de moradia, que permitia a convivência entre gerações da mesma família, foi sendo reduzido à unidade habitacional em loteamentos homogêneos e isolados. Nada lembrava os gradientes do rio até a mata densa. A população remanejada dos espaços precários para conjuntos habitacionais passou a viver em pequenas casas ou apartamentos. Hoje, não há quintais para plantar sequer uma touceira de açaí. O bom é pavimentar tudo! A vegetação virou estorvo ou artigo de luxo.
Os tempos mudaram, mas a concepção de moradia nos conjuntos habitacionais ainda está presa à lógica do trabalho formal, em escritórios ou no comércio. Nos bairros populares, a vida cotidiana das pessoas que migraram para a cidade, muitas vindas de áreas em disputa na Amazônia “integrada”, depende das casas e da acessibilidade das ruas como base para gerar renda por meio da oferta de pequenos serviços. Embora essas atividades possam parecer pouco expressivas para a arrecadação pública, são base da economia popular que sustenta inúmeras famílias.
Esta narrativa espera evidenciar que estar em Belém oferece possibilidades de compreensão do impacto do modo hegemônico de pensar e mover o mundo. Apesar da turistificação das ilhas próximas à cidade, ainda é possível ter um vislumbre da cidade-floresta. As baixadas, que hoje comportam a periferia próxima, terão a sina de área de risco reforçada pela elevação do nível do mar, que afetará também as ilhas, cuja população contribui muito pouco para o colapso climático.
Voltando à questão da transição ecológica: se a meta é a neutralidade climática e o foco é o combate ao racismo ambiental nas cidades, quando vamos começar a inverter o fluxo e trazer para as metrópoles os saberes que ainda resistem nas bordas e eventuais periferias de Belém? Saberes esses que foram duramente desqualificados em nome de um progresso baseado em tecnologias já comprovadamente ultrapassadas.
Jovens da periferia de Belém são ativistas climáticos porque já vivem a morte dos rios, o calor excessivo, o risco de inundação… E, se conversarem com seus avós, saberão que tudo aconteceu muito rápido e que ainda há trilhas de conhecimento sobre como reorientar o curso dos acontecimentos, sem que seja necessário buscar em outros países tecnologias “redentoras” e caras. A sociodiversidade amazônica é uma riqueza tão valiosa quanto sua biodiversidade, e essas pessoas vivem em espaços que têm muito a inspirar quem for capaz de olhar para além das lentes embaçadas e perigosas das práticas hegemônicas.
¹ Professora da Universidade Federal do Pará (UFPA) e pesquisadora do INCT Observatório das Metrópoles Núcleo Belém.
Série Especial COP30 | INCT Observatório das Metrópoles
Até a realização da COP30, o INCT Observatório das Metrópoles publicará uma série especial sobre o evento em seu Boletim Semanal, com análises e reflexões produzidas por pesquisadores do Núcleo Belém, sediado na Universidade Federal do Pará (UFPA).
Confira: