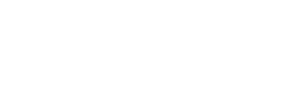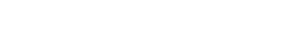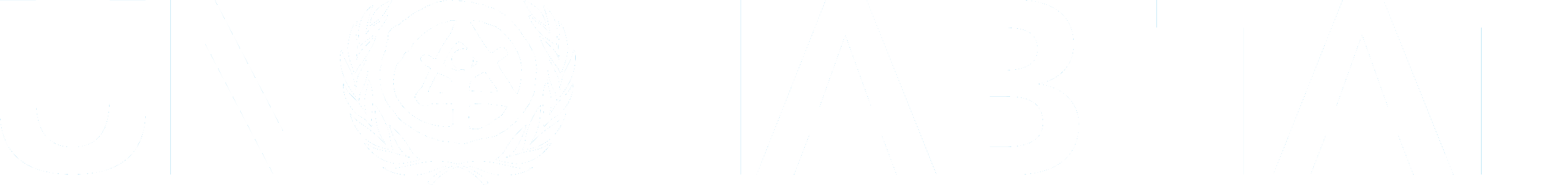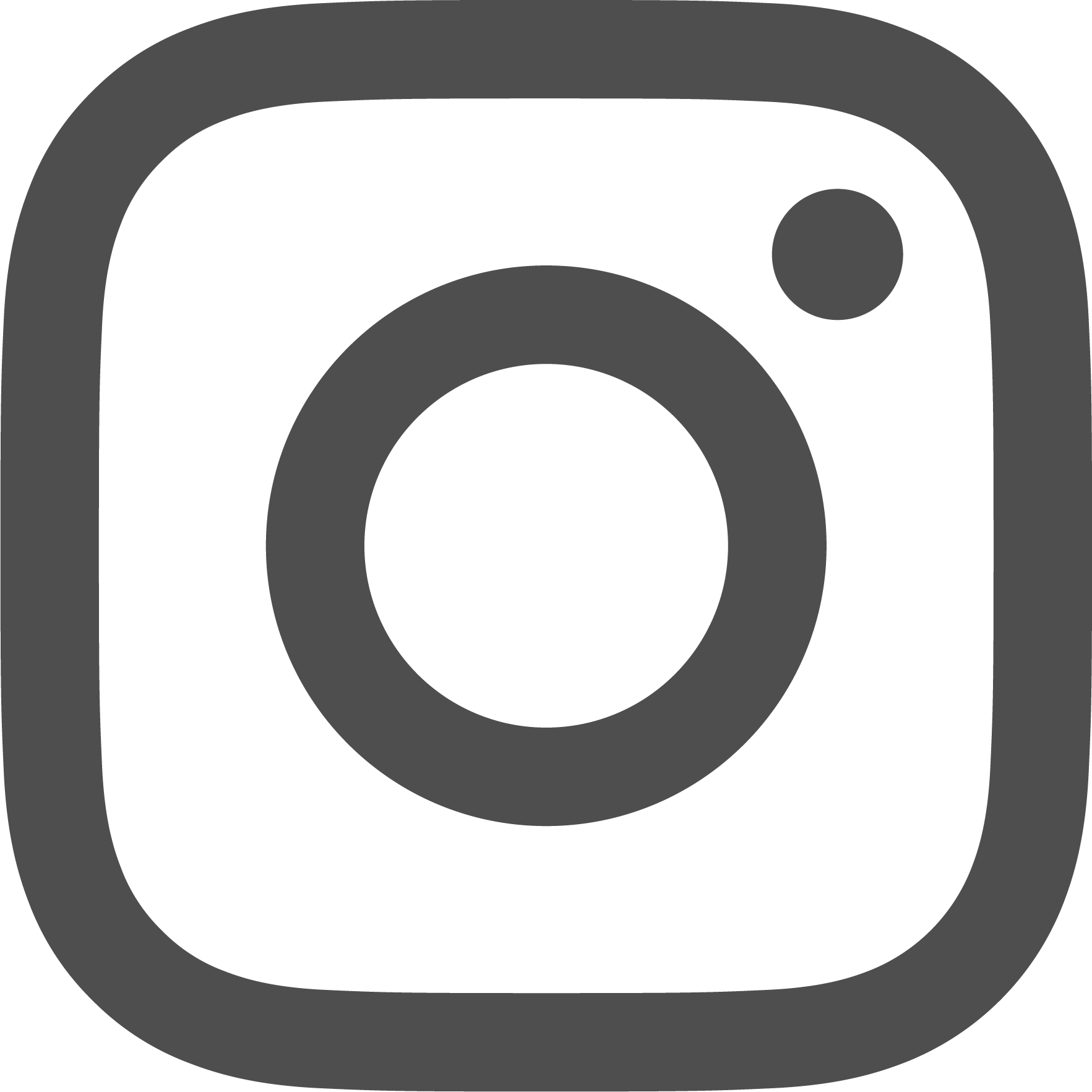Raul da Silva Ventura Neto¹
Há quase exatos dois anos, em 11 de novembro de 2023, a cidade de Belém foi selecionada para abrigar o 30º Encontro das Partes das Nações Unidas. Internacionalmente identificada como COP30 e batizada nacionalmente como COP da Floresta, o encontro em Belém terá início na próxima semana, sendo a quarta COP realizada na América do Sul e o primeiro encontro desse porte e com esse tema a acontecer no Brasil desde a Rio-92. Diferentemente das COPs 4, 10 e 20, realizadas respectivamente em Buenos Aires (duas vezes) e Lima, a COP30 não terá como palco uma capital nacional.
A escolha de Belém, mais antiga metrópole da região Norte, mas de posição periférica para o capitalismo brasileiro, buscou cumprir um papel geopolítico de posicionar internacionalmente o Brasil na liderança da construção de uma agenda para lidar com a emergência climática. Com a escolha de Belém para sediar a COP da Floresta, a estratégia político-midiática dos governos federal e estadual foi realçar, ainda mais, a importância do bioma amazônico para manter o equilíbrio climático global. A carta na manga do governo brasileiro – 60% do bioma amazônico se encontra em território nacional – é que a preservação e restauração do bioma amazônico representam uma peça fundamental do intrincado xadrez do capitalismo internacional para que os países, especialmente os do Norte Global, cumpram suas metas de controle das emissões de gases de efeito estufa.
Apenas sediar o evento é insuficiente para fazer a Amazônia, e especialmente Belém, se inserir nos fluxos de capital internacional disponíveis para preservação e restauração de florestas tropicais. Para que isso se materializasse, era fundamental que o Brasil desenhasse um projeto de desenvolvimento regional que aliasse crescimento econômico com preservação e recuperação da floresta tropical. Esse projeto precisava ser validado globalmente e, de quebra, ser de fácil absorção interna. É nesse contexto que a Bioeconomia se insere na agenda econômica e política da totalidade dos estados que compõem a região, como modelo quase absoluto de desenvolvimento para a Amazônia pós-COP.
Importante dizer que a Bioeconomia não nasce para a COP30 – muito pelo contrário. Bioeconomia é um conceito difuso e utilizado principalmente por pesquisadores de países do Norte Global, com mais frequência a partir de meados dos anos 2000. Um estudo de referência sobre o tema (Bugge et al., 2016) buscou organizar o conceito a partir de uma extensa revisão bibliométrica, chegando a três vertentes principais: Bioeconomia Biotecnológica, Bioeconomia de Biorrecursos e Bioeconomia Bioecológica. Nos anos que antecederam a COP30, think tanks de projeção internacional, contando com importante contribuição de grupos de pesquisadores brasileiros e, sobretudo, de universidades da Amazônia, produziram relatórios de pesquisa que se tornaram fundamentais para nortear a atuação dos governos estaduais nessa agenda.

Foto: Marcelo Camargo (Agência Brasil).
Internamente, o conceito de Bioeconomia é muito próximo das cadeias produtivas endógenas à economia amazônica, enraizadas na história e nas mentalidades da população das principais cidades da região. Refiro-me, sobretudo, aos setores e produtos que representam a economia da sociobiodiversidade amazônica, fortemente pautados no processamento de produtos do agroextrativismo, comandados por comunidades tradicionais e com forte potencial de promover desenvolvimento econômico aliado à preservação e restauração do bioma. Soma-se a isso a necessidade de construir políticas de desenvolvimento regional capazes de incrementar o valor agregado desses produtos e ampliar a capacidade de retenção local da renda gerada nas etapas de cultivo/extração, processamento e comercialização. O caminho para isso é tortuoso e repleto de assimetrias de informação, das mais genéricas às mais complexas. Basta pensar que o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas não discrimina “CNAEs” específicas para atividades ligadas aos produtos florestais não madeireiros da Amazônia, o que impacta enormemente na capacidade de mensurar, por exemplo, os efeitos multiplicadores dos investimentos rotulados como atividades da Bioeconomia.
Situada no meio dessa encruzilhada, a Região Metropolitana de Belém (RMB) pode ocupar um espaço estratégico de mediação urbana entre o que é produzido na floresta e a miríade de produtos que podem vir a carregar a “Amazônia” como marca para o mercado nacional e internacional. Se a aposta desse projeto reside em consolidar um projeto de desenvolvimento regional a partir de Arranjos Produtivos Locais de produtos da Bioeconomia, com a RMB como sua âncora produtiva e de comercialização, é preciso reconhecer que estamos diante apenas de um papel de controle sobre o território amazônico que historicamente foi relegado a Belém. Esse papel de controle se manteve ativo e resiliente, a despeito de um conjunto articulado de ações de planejamento metropolitano que, quase sempre, se colocaram contrárias a essa realidade, negando o agroextrativismo amazônico como ferramenta para o desenvolvimento regional.
Contudo, não é possível dizer, ainda, que os ventos do desenvolvimento tenham virado em definitivo nesse sentido. Em termos concretos, e fazendo uso dos recursos garantidos para realizar a COP30, o caminho escolhido pelo governo do estado e pela Prefeitura de Belém foi o de ampliar e reorientar o ecossistema de inovação disponível na RMB no sentido da Bioeconomia, visando que a metrópole se consolide como um hub nacional no incremento tecnológico dos produtos da floresta. Dois projetos promissores para conduzir essa transformação são o Parque de Bioeconomia, construído nos antigos galpões portuários recuperados para integrar o Porto Futuro II, e o Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém, que se propõem a aliar a recuperação do Centro Histórico de Belém com o fomento a startups de tecnologia na área de bioeconomia e soluções urbanas.
Por fim, há alguns dias do início da COP30, resta saber o que será da continuidade desse projeto de desenvolvimento quando se apagarem os holofotes e os painéis de LED, a partir de dezembro. Que o município de Belém e sua área metropolitana se mantêm como território fundamental na mediação entre o que é produzido na floresta e os mercados externos, disso a história da formação socioespacial da Amazônia não nos deixa ter dúvidas. As incertezas pairam sobre o grau de comprometimento do Estado brasileiro, em todos os níveis, com um projeto de desenvolvimento regional que pode reposicionar a Amazônia na expansão desigual do capitalismo brasileiro.
¹ Professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e pesquisador do INCT Observatório das Metrópoles Núcleo Belém. Também integra o INCT Labplan.
Série Especial COP30 | INCT Observatório das Metrópoles
Até a realização da COP30, o INCT Observatório das Metrópoles publicará uma série especial sobre o evento em seu Boletim Semanal, com análises e reflexões produzidas por pesquisadores do Núcleo Belém, sediado na UFPA. Além deste artigo inicial, sobre a COP30 e os projetos em andamento na região metropolitana, a série abordará temas como moradia digna e justiça climática, bioeconomia, populações tradicionais e uso da terra, além de relatos diretos da conferência durante a realização do evento.
Veja também: